Todos esses dias iguais de trabalho.
Toda essa vontade de fazer as coisas de um modo diferente.
Como fazer a vida ser do jeito que a gente quer?
Como é que a gente quer a vida?
Na época da escola, eu só queria férias, mas nas férias eu sentida falta da rotina de estudos.
Como criar equilíbrio entre estes diferentes aspectos?
A vida precisa ser do jeito que a gente quer para que sejamos felizes?
Eu cresci assistindo filmes da Disney nos quais o príncipe e a princesa viviam felizes para sempre no final, aparentemente com uma fortuna que os sustentasse a eles e aos seus filhos e netos até a décima geração. O trabalho geralmente era a punição da mocinha antes dela ser resgatada. Minhas fantasias a respeito da vida perfeita definitivamente não são reias.
Como então querer algo real e bom?
No fim das contas, eu não conheço uma vida que seja feliz e equilibrada. Todos a minha volta então querendo algo, na vida deles também está faltando qualquer coisa.
Como confiar no que eu sinto e sentir o que é verdadeiramente importante para mim?
Eu olho para a parede e penso pesadamente sobre cada uma da palavras que escrevo. Isso quebra o ritmo desse texto de insatisfação por tempo suficiente para meu marido passar pela sala, meu gato pular na janela. Eu lembro que amanhã eu não vou acordar cedo e avalio que minha saúde não está tão mal assim. De algum modo meus pensamentos parecem encarar o abismo, mas nenhum sentimento de profunda e real insatisfação me castiga agora. Como continuar essa reflexão? É melhor apagar o texto e começar de novo? Não.
Eu preciso me cuidar mais? Sim. Eu quero trabalhar menos? Sim. Seria bom viajar qualquer dia desses? Certamente.
Quando eu estou na rua sentindo saudades de casa eu choro? Muito. Quando o dinheiro aperta eu me desespero? Terrivelmente. Quando eu erro, sofro? Horrores.
Esses altos e baixos, ainda assim, parecem bonitos a distância. Como a cordilheira impenetrável do meu passado, cheia de mistérios. Uma travessia que me deixa boquiaberta. Majestosa. Me dá prazer contemplá-la e, de algum modo, tanto a alegria extrema quanto o desespero se dissipam e eu aprecio uma calmaria agradável e confiável. Depois eu respiro, olho para frente, e atravesso mais uma de muitas montanhas. No fundo do vale a noite é densa e o sentimento é obscuro, nas planícies, a visão é ampla e eu posso correr e descansar, nos cumes há muita excitação e um deslumbramento inigualáveis. Depois que acaba começa tudo de novo, só que diferente. E tudo parece novo, lindo e delicioso de novo. Os pensamentos sempre profundos, mas a vida boa e sempre valendo a pena.
Tag: #filosofia
Do Renascimento ao Século XVII d.C. Parte II
Capítulo V (Vou dividir o capítulo, na verdade, em três partes, para tornar a leitura mais palatável).
Quanto ao quadro geral do número de suicídios encontrado na época, cabe apontar para o seu aumento significativo. No entanto, este fato deve ser tomado apenas como demonstrativo de uma maior eficiência dos relatos deste tipo de morte e não como um aumento de fato da ocorrência do suicídio. (Ou seja, a ideia então é que não houve um aumento real do número de pessoas que tiram suas vidas ao longo de diferentes períodos históricos. O número de suicídios sempre foi estável proporcionalmente em relação a população absoluta).
Os relatos de morte por suicídio feitos por volta e a partir do século XVI começam a ocorrer com considerável eficiência e em maior número. Para que isso fosse possível não se deve deixar de considerar o já mencionado surgimento da imprensa, o grande número de jornais e folhetos que passam a circular cotidianamente, a maior facilidade da circulação de informações e a maior frequência e disponibilidade das traduções.
Pode-se atentar também para o que Foucault observou: o fato de que, neste período, começa a ocorrer um maior interesse do Estado em manter um controle mais rigoroso de toda sorte de eventos (1998). Surge nesse período o que ele denominou poder disciplinar, que encarna o interesse pelo controle minucioso dos corpos de todos os cidadãos. O próprio surgimento da estatística é apontado pelo autor como um instrumento desse controle. Começam a ser controladas as taxas de natalidade e mortalidade, o número de suicídios e assim por diante. Enfim, o que se verifica é o surgimento de diversos índices que favorecem o conhecimento e o controle dos indivíduos. Quanto ao controle do número de suicídios, especificamente, Minois cita à exaustão exemplos de todo tipo de listas ou locais nos quais as relações de causa e morte eram apresentadas, salientando que haviam aquelas dedicadas exclusivamente à morte voluntária (Minois, 1998, p.229 e 230).
Chegamos então ao momento oportuno para a introdução dos debates filosóficos a respeito do tema. E, mesmo que não fossem em grande número, os filósofos que fizessem deste um de seus principais temas, a grande maioria deles deu a sua contribuição para o debate (op. cit.).
Em um primeiro momento, a loucura emerge como um foco para o pensamento, na medida em que se apresenta como “refúgio, fuga e explicação” da sociedade e de tempos tão conturbados como os séculos XV, XVI e XVII, nos quais inúmeras guerras, pestes, intensos conflitos religiosos, mudanças na configuração política e econômica dos Estados, colonização de novas terras e muitas outras mudanças perturbam a consciência da época e, misturado com ela, sendo obscuro o limite que dela o separa, se encontra o suicídio.
O entendimento da loucura passa por uma brusca mudança em um curto período. As posições de Sébastien Brant e Erasmo de Rotterdam, tal como demonstrado por Minois (op. cit., p.100), exemplificam muito bem essa mudança, que se daria entre o entendimento da sabedoria e da loucura. A exemplificação mencionada seria feita pela apreciação de duas sentenças, cada uma de um dos autores: “procurar a morte é uma loucura, pois a morte sempre nos encontrará” – enunciada por Sébastien Brant – e “Quem são aqueles que por desgosto da vida se entregam à morte? Não estarão eles mais próximos da sabedoria?” – enunciada por Erasmo de Rotterdam. (Disputas intelectuais da época. O suicida é são ou louco? Qual é o sentido atribuído ao ato de tirar a própria vida? Essa é uma pergunta com a qual nos debatemos até hoje. A distância entre o pensamento dos gregos e o atual é bastante evidente em certo sentido, no que diz respeito ao debate do suicídio no ocidente. Mas com as discussões que surgem já aqui no renascimento é bem fácil se identificar. Já existem muitas ressonâncias com o modo de pensamento atual). O primeiro afirma então que é necessário ser louco para querer se matar e o segundo que é necessário ser louco para querer ficar vivo. O último ainda completa:
Basta ver todas as calamidades a que está sujeita a vida dos homens, a miséria e obscenidade de seu nascimento, a dificuldade da educação, as violências a que está exposto na infância, os medos a que está submetido na idade madura, o fardo da velhice, a dura necessidade de morrer, porque sempre ao longo da vida sofrerá todas as doenças que o assaltam, os acidentes que o ameaçam, os males que lhe caem em cima, os rios de fel que envenenam todas as coisas, sem falar dos males que o homem inflige ao homem: pobreza, prisão, desonra, vergonha, torturas, armadilhas, traição, injúrias, velhacarias (…). Como vê, penso eu, o que se poderia esperar se os homens fossem mais sábios: seria preciso outro barro e um novo Prometeu para o modelar (ibidem).
Outros aspectos desse debate se encontram nos estudos feitos por Montaigne. Ele afirma que o suicídio não é uma questão de moral abstrata, não podendo ser pensado em absoluto e valorado por posições universais. (Amo esse filósofo)! Apenas o indivíduo por si mesmo, perante uma situação particular poderia avaliá-la e a todas as possibilidades que apresenta, chegando por tal avaliação à saída que lhe pareça mais razoável, sendo apenas neste nível o suicídio passível de valoração.
A razão desponta neste momento como aquilo que deve iluminar qualquer sorte de reflexões e o suicídio não será considerado por outro prisma por Descartes. O filósofo não se deterá no tema, mas esclarecerá seu posicionamento em algumas de suas correspondências pessoais (op. cit., p. 202). A razão não nos diz nada sobre a morte, se existe ou não algo depois dela. Cometer suicídio seria, então, trocar o certo pelo incerto, o que constitui um erro. O suicida não é, nesta perspectiva, um pecador, mas alguém que comete um erro de juízo; e aquele que erra pune a si mesmo. (Deu para ver muito isso com o meu estudo. A galera não necessariamente se debruçava sobre o tema do suicídio, mas tinha que dar um pitaco).
Cabe observar que esta posição não deve ser tomada como representativa da dos racionalistas de um modo geral, assim como a posição de Hume, a seguir apresentada, não reduzirá de modo algum a dos empiristas. Pelo contrário, o que se encontra comumente é uma intensa discordância entre os filósofos e uma ambiguidade muito grande das posições particulares. (Justamente porque era uma discussão muito viva. Poucos grandes tratados filosóficos foram produzidos sobre o tema da morte e do suicídio especificamente por esses filósofos pops, mas eles sempre tinham algo a dizer. Sobre tudo; na verdade, eles sempre tinham algo a dizer. Falo isso com um pouco de amargor e ressentimento porque a academia, tal como eu a experimento, é muito rigorosa quanto a quem pode dizer alguma coisa. Como se a senioridade ou o título assegurassem que tudo que sai da boca de alguém são pérolas de sabedoria. Esses filósofos falavam cada absurdo. Leia os textos do Kant sobre mulheres, por exemplo, e você vai saber do que estou falando. Observação: se você acompanha meus textos, sabe que eu não perdoo crueldade e babaquice por conta do período histórico em que uma pessoa viveu, então não venha me dizer que era outra época. A “vida” sempre foi a “vida” e o ser humano sempre apenas teve uma destas e muitas mulheres morreram por causa dessas ideias e práticas e não voltarão à vida nunca mais. A gente fica pagando pau para as ideias dos filósofos, tentando salvá-los de suas atrocidades intelectuais e morais, mas resiste em ouvir os jovens, vivos, que querem gritar e expressar suas ideias. Se é para ouvir babaquice eu prefiro ouvir de alguém com quem eu consiga gritar de volta e não das páginas de um livro reverenciado escrito por um velho morto. Essa é a ideia. Parece que o caminho da graduação para o pós- doutorado é o caminho do “rejuvenescimento” do autor que você estuda. Como assim? Na graduação, a maioria dos autores que eu estudei eram senhores veneráveis que morreram velhos já há muitos anos, no mestrado, eu já comecei a estudar uma galera mais atual, se não o autor principal, pelo menos os comentadores, um ou outro vivo ainda. Agora, no doutorado eu estudo muita gente que está viva ainda e produzindo e que está na casa dos cinquenta anos! No pós-doc eu devo conseguir conhecer e debater com algum intelectual que regule comigo. É isso. Você tem que ir galgando degraus para ser ouvido. O problema é que você aprendeu a calar por tanto tempo, que quando chega a sua hora de falar, o que te resta a dizer já não carrega a potência da revolta da juventude, que sempre foi o que fez avançar o mundo. Eu vou parar por aqui hoje, porque acho essa ideia muito importante e quero que você medite sobre ela. Qualquer coisa discuta comigo nos comentários. Para a sua sorte, eu estou viva e você não é obrigado a baixar a cabeça para falar comigo :P).
DIAS, O. M. K. Perspectiva Histórica sobre a Morte de Si Mesmo no Ocidente. Monografia de fim de curso de Formação de Psicólogo, Instituto de Psicologia. Rio de Janeiro: 2013.
A Austeridade Romana e a “Saída Racional”.
Capítulo II
Inspirada nos princípios estoicos, a fundação da cidade ecumênica romana ergue-se sob a lei natural da razão, imutável e inscrita no cosmo. (Enquanto eu estava lendo sobre as diferentes escolas filosóficas mencionadas neste trabalho, porque eu já amava filosofia na época e tinha curiosidade de saber uma pouco sobre cada uma, eu acabei me interessando muito pelo estoicismo. Li bastante coisa do filósofo estoico Sêneca. O primeiro artigo que escrevi completamente sozinha, sem orientação, por puro interesse, foi sobre a morte na perspectiva do Sêneca. Foi esse artigo que eu apresentei na minha seleção de mestrado. Este artigo Também faz parte dos textos que eu quero reler e retrabalhar através do blog para um possível envio para uma revista filosófica no futuro. Até porque, infelizmente, a lógica produtivista está aí, não é, e eu preciso pensar mais em publicações nos próximos anos). A razão é para os romanos o princípio do universo, é norma de justiça e da ação calculada que permite guiar a sábia conduta.
Segundo Sêneca (4 a.C. – 65 d.C.), preceptor de Marco Aurélio e Nero, a morte assume importante papel na formação do homem sábio. A liberdade e a vontade guiadas pela razão conduziriam à perfeita humanidade e à consonância com a ordem natural do universo, do logos. (Bom, sim, claro. Existe essa consonância com o universo, pois é a lei da razão, que governa o homem, que governa também todo o universo. Para que exista tal consonância, o homem deve viver racionalmente). O homem sábio alcançaria a liberdade se se colocasse acima da injúria e extraísse de si mesmo suas satisfações. A filosofia serviria como técnica para uma vida feliz, livrando a alma do peso do corpo, das paixões sensuais e do temor da morte. (Era essa ideia que me encantava. O poder da filosofia de livrar-nos do medo da morte. O poder de se elevar acima das circunstâncias, de ser feliz a despeito do que nos aconteça. A chave da vida boa estaria nos ensinamentos de algum filósofo por aí, eu pensava). Assim, o saber teórico deve ser exercido em vida, pela prática das virtudes, como uma arte. (O exercício do saber teórico em vida. Perfeito para mim que gostava tanto de pensar sobre a existência. Já estava na psicologia por isso mesmo. E, cedo, eu vi na filosofia a complementação necessária e o fundamente da própria psicologia. A filosofia seria capaz de fornecer a visão de homem e de mundo que a psicologia trabalharia na prática clínica. Eu ainda sonho com esta ideia). A elaboração da arte de viver inclui ainda uma inflexão, a arte de morrer, de saber evadir-se quando a vida se torna indigna.
A morte voluntária pode desviar da crueldade do inimigo, da proba escravidão, da doença e da humilhação. Segundo Sêneca, “a vida inteira é aprender a morrer”, pois que o homem, enquanto mortal, segue seu curso irreversível para o destino determinado pela natureza. A morte é o livramento da tormenta da vida que nos arrebata as instabilidades, “nos joga uns contra os outros”. Sêneca não perfila ao lado daqueles que se opõem a morte voluntária, chegando mesmo a defendê-la em certos extremos. Esta defesa era o reflexo de um julgamento a respeito das condições da vida quando desfavoráveis ao exercício bem-sucedido da razão, “é preciso deixar esse modo de vida ou deixar a própria vida”. (Sêneca, 2008). (Bastante austeridade, mas ele mesmo parece que não seguia seus ensinamentos. Era um velho, rico e gordo. Mas tinha uma fala austera. Lembra alguém que você conhece)? Ainda, com relação ao momento adequado para se abandonar esta vida, declara: “Velhos decrépitos mendigam em suas orações um acréscimo de uns poucos anos” de vida, enquanto, aqueles que prepararam o espírito para combater a dor, habitaram o corpo como alguém que esteve “prestes a se mudar”, estarão preparados para o dia em que tiverem que morrer não tornando este o mais miserável de suas vidas. Logo, não importa quando se encontrará a morte e sim o quão digna será.
Segundo Minois (1998), Roma talvez tenha sido, dentre todas as civilizações, aquela mais favorável ao suicídio. Nela não se observava proibição alguma ao cidadão comum no que dizia respeito ao ato. Sem interdições morais, a “saída racional” (eulógos exagogé) era considerada por suas causas necessárias ao indivíduo mantendo o estatuto ético da conduta estoica. (Engraçado isso, não é? Tem coisa que a gente escreve que depois a gente mesmo não entende. Eu não entendi esta última frase. Como assim “causas necessárias)? O cidadão livre romano era senhor de sua vida e não a concebia como um presente dos deuses, podendo dispor da mesma de acordo com sua vontade. Contudo, segundo a Lei das Doze Tábuas, antiga legislação que deu origem ao direito romano, somente o chefe da família era detentor de status cívico e tinha poder absoluto “de vida e de morte” (vitae necisque potestas) sobre si mesmo, seus filhos, esposa e escravos (Ariès e Duby, 2006). (TAM TAM TAM!!!) A tentativa de suicídio de qualquer dos três últimos constituía uma afronta à autoridade legal do pater familias, bem como à figura do imperador. Aos soldados e escravos eram previstas algumas penas no caso de sobrevivência a uma tentativa de suicídio. No primeiro caso, havia por detrás da proibição um interesse político evidente; no segundo, interesses econômicos.
A violência e tragicidade dessa morte, contudo, não deixava de causar inquietações. De modo que em alguns lugares eram realizados rituais supersticiosos com o cadáver do suicida para impedir que o morto perturbasse os vivos. Por exemplo, em algumas regiões, o corpo era mutilado e cada parte enterrada separadamente. Em outras, ele era enterrado em uma encruzilhada ou com uma estaca cravada no peito. Tudo isso para que o morto não viesse a se levantar e encontrar o caminho de volta à sua cidade. (Loucura esses rituais. Mas vem coisa pior pela frente)! Também, acredita-se que o suicídio por enforcamento era o mais rejeitado pelos romanos, uma vez que as vítimas mortas por asfixia sem efusão de sangue eram oferecidas às divindades telúricas (Minois, 1998, p.66). (Essa informação foi outra que eu coloquei porque eu achei que parecia fazer uma referência interessante, mas eu nunca consegui encontrar muitas informações a respeito. Vou fazer mais algumas pesquisas sobre isso para ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Afinal, cinco anos já se passaram da minha formação… Muito artigo novo já foi escrito nesse tempo…).
A natureza do ato variava por razões que compreendiam motivos políticos, para escapar à decrepitude da velhice, por ordálio[1], suicídios lúdicos – como era o caso dos gladiadores voluntários –, martírios voluntários – cometidos pelos cristãos em nome da fé, nos tempos em que o cristianismo está se firmando – e os suicídios por taedium vitae. Este último se define pelos suicídios por desgosto da vida, sendo caracterizado por uma espécie de tédio mórbido e ansioso, ocorrendo mais frequentemente nos períodos das grandes transições históricas ou crises da consciência quando as verdades religiosas e científicas, os valores tradicionais e a moral são postos em questão. Ele é verificado normalmente no seio da elite intelectual. (Olha só quantas concepções diferentes de suicídio existiam nessa sociedade! Hoje em dia isso também existe, mas como o suicídio é sempre pouco debatido, são discussões com as quais não estamos muito familiarizados. Talvez eu ainda escreva sobre isso no blog. Sobre taedium vitae eu já escrevi. Você pode ver aqui).
Contudo não se tem razão para crer que Roma haveria assistido a um número de suicídios relativamente maior do que o ocorrido em outros períodos históricos por conta de sua permissividade perante o ato. (Esse é outro tema quente de discussão).
DIAS, O. M. K. Perspectiva Histórica sobre a Morte de Si Mesmo no Ocidente. Monografia de fim de curso de Formação de Psicólogo, Instituto de Psicologia. Rio de Janeiro: 2013.
[1] O ordálio era uma espécie de julgamento dos mortais pelos deuses. Nesse tipo de situação a morte era certa. Tal julgamento consistia em submeter o acusado a circunstâncias nas quais a vontade dos deuses pudesse se manifestar. Por exemplo, ele poderia ser lançado a um rio e o seu afogamento traduziria tal vontade. No entanto, caso isso não ocorresse se entendia que a culpa do sujeito era tão grande que mesmo o rio o rejeitara e ele era então submetido a uma pena de morte.
Abertura de Possibilidades na Polis.
Capítulo I
O caso específico da morte como escolha refletida é posta ao lado da razão no mundo grego, devendo ser avaliada e tida como solução para uma vida desonrosa. É notável a multiplicidade de argumentos e concepções que envolvem as correntes filosóficas gregas e, mesmo dentro dessas, tantas outras ocorrências particulares. As abordagens sobre o tema apontam para opiniões acerca do suicídio que envolviam repúdios e glorificações. Havia na Antiguidade, certo reconhecimento da nobreza do ato e as posições favoráveis eram muito mais frequentes do que em períodos históricos posteriores. Não se trata de um período legitimador do ato, mas sem dúvida, não havia elaboração de severas interdições.
Como ilustrativo do afirmado pode-se recorrer ao exemplo de uma série de personagens históricos ilustres tais como os suicídios patrióticos de Temístocles e Demóstenes; o suicídio por remorso de Aristodemo; suicídio para escapar a decrepitude da velhice de Demócrito; suicídios filosóficos por desprezo à vida de Zenão, Hegésias, Diógenes e Epicuro; suicídio por amor de Panteu, Hero e Safo (Minois, 1998, p.61). (É muito pobre geralmente a pesquisa de um trabalho monográfico. Não por desinteresse do aluno, mas porque o aluno é extremamente limitado no que ele pode dizer em uma monografia. Ele ainda não é o produtor do conhecimento, ele é o reprodutor do mesmo. Na monografia, a tarefa do aluno é basicamente a de mostrar que ele é capaz de ler e compreender um determinado número de escritos consagrados de diversos autores e reproduzir o conhecimento que ele adquiriu nas próprias palavras. Esse é um trabalho que me parece um bocado vazio de significado. Para que serve esse resumam feito pelo aluno ao final de uma graduação? Mais uma rebuscada prova de que ele absorveu conteúdo da maneira tradicional. Pior ainda é o destino do trabalho monográfico no mundo acadêmico. As monografias não são bem vistas como referências bibliográficas nem mesmo de outras monografias. No mínimo, para você citar em um trabalho acadêmico ou em um artigo, você pega uma dissertação de mestrado. E olhe lá! Não é das referências tidas como mais confiáveis ou “nobres”. Bom, tendo em vista esse estado de coisas, nos limitamos a repetir o que os autores consagrados disseram. Messes espírito, eu repeti os exemplos citados por Minois na minha monografia. Eu pesquisei sobre cada um dele para saber o que tinha acontecido, pois o autor não entra em detalhes, mas mesmo assim eu não deixo de sentir um certo incômodo, sabe? Foi ele que fez a pesquisa e não eu. Eu imaginava que pesquisar, academicamente falando, era ir até a biblioteca e desenterrar coisas desconhecidas. Essa foi uma expectativa frustrada…)
Entre os pré-socráticos não são encontradas muitas menções ao tema, exceção feita aos pitagóricos. Opondo-se radicalmente ao suicídio, argumentam que, por ser esta uma morte violenta, ela desequilibra as relações matemáticas que ligam a alma ao corpo. (Eu me lembro de ter achado a maior loucura essa coisa de que as relações que ligam a alma ao corpo são da ordem de equações matemáticas! Muita viagem! Dava para escrever uma ficção científica em cima dessa ideia. Eu procurei pela equação na época e não consegui achar nada. Agora, relendo a monografia, bate novamente a curiosidade: será que os caras chegaram a escrever essa equação? Esta aí uma coisa que eu gostaria de ver). Ademais, haveria, nesta vida, um propósito a ser cumprido do qual não se deve evadir, pensamento que explicita a importância dada pelos pitagóricos às questões espirituais, em consonância com sua herança órfica (Oliva e Guerreiro, 2000). (Essa herança órfica eu me lembro de ter dado um trabalho para entender na época. Difícil encontrar informação de fontes utilizáveis na monografia, sobre o tema. Iria dar muito trabalho. Como todo aluno sensato, eu só mencionei com a referência de onde o leitor poderia encontrar mais sobre o tema e deixei para que quem tivesse interesse corresse atrás do que se tratava. Na verdade, se eu não me engano, tratava-se da influência, na filosofia, das ideias do poeta místico Orfeu. Se você tiver curiosidade, não é difícil encontrar informações sobre ele na internet).
Um exemplo mais rico será encontrado com a polêmica condenação de Sócrates, que suscita a hipótese de suicídio e provoca debates a respeito do pensador tê-lo aceitado, à medida que recusou chances de minimizar sua pena. Havia sido acusado pelas autoridades atenienses de professar contra os deuses e corromper a juventude, pondo em risco a ordem da cidade. Sócrates entendia que o cumprimento de qualquer penalidade seria o reconhecimento de culpa e traição aos seus ensinamentos proferidos até então. Ao longo de seu julgamento desafia seus juízes e comprova a inconsistência das acusações, além de rejeitar penas alternativas propostas por seus concidadãos ou o pagamento de fiança por seus alunos. No diálogo Fédon, os acontecimentos demonstravam que as atitudes de Sócrates sugeriam resignação diante da morte. No entanto, em seus últimos momentos, quando indagado sobre essa conduta, ensina a seus discípulos que “os homens estão em uma espécie de prisão e que não devem nem se liberar nem se evadir da mesma” (Fédon, 62-b). Os homens pertencem aos deuses e, por conseguinte, só poderiam matar-se ao receberem um sinal, uma forma de autorização dos mesmos, como era o seu caso. Certos trechos do diálogo Fédon apresentam ensinamentos sobre a alma segundo os quais aquele que se dedica à filosofia estaria se dedicando a um exercício de saber morrer. Para o filósofo, a alma se tornaria cada vez mais elevada através da filosofia, mas só podendo encontrar a verdade e a sabedoria absoluta – a contemplação das essências – na morte. Portanto, a mesma não deveria ser temida, sendo, com efeito, a própria musa da filosofia. (Um parágrafo da monografia sobre o Fédon… Mas como deu trabalho escrever esse parágrafo. Ler o diálogo, ler sobre o diálogo, resumir as partes mais importantes. É muito insano esse trabalho. Tem coisa até que rende mesmo. Você lê um parágrafo e escreve uma página. Aqui, eu li mais de cem páginas e escrevi um parágrafo. Que tristeza).
Nas Leis, ao definir condenações para os delitos, Platão estabelece que aqueles que matam a si, privam-se do seu destino e cabe aos mesmos serem enterrados “sem glória” e sem lápides, em regiões anônimas. São levantadas três ressalvas para tal condenação que tornam confusos os limites dessa interdição, como em caso de ordenação pela justiça da cidade, acometimento do indivíduo por grande dor, ou ainda se o mesmo é investido de intensa vergonha “contrária à vida”. Afora essas exceções, a morte de si é tida como indefensável, covarde e indolente (Platão apud Puentes, 2008, p.61).
A filosofia aristotélica aproxima-se de Platão apenas por reputar ao homem sua função social acima de interesses pessoais. Aristóteles apresenta sua posição de maneira mais incisiva, negando qualquer exceção a favor da morte de si mesmo e introduzindo um novo argumento contrário a ela. Em sua obra A Ética a Nicômaco, o filósofo afirma que os cidadãos têm obrigações para com sua comunidade, tirar a própria vida representaria uma injustiça contra a Cidade. Afirma que esse caso específico de proibição do suicídio não se encontra nas leis, mas o que ela não ordena, proíbe (Aristóteles, 1973: v 15, 1138 a, 6-7).
Em 323 a.C., a morte de Alexandre e a tomada das cidades gregas pela Macedônia tiveram por efeito drásticas rupturas no pensamento clássico. Subjugado pelo domínio estrangeiro, o homem grego, cidadão e animal político, que antes exercia sua liberdade nos espaços públicos da cidade, agora passa a confinar sua busca por autarquia através de recursos espirituais, num processo intimista de adaptação às transformações sociais. Sendo assim, a filosofia desse período está marcada por um forte caráter ético, que se mostra na busca individual pela felicidade, uma espécie de “salvação interior” (Châtelet, 1981, p.168) independente das circunstâncias. Esse pensamento diz respeito a uma prescrição do bem viver que caracteriza a filosofia em seu sentido popular, a “filosofia de vida”.
Cabe aqui uma digressão teórica. Em seus estudos sobre a sexualidade na Antiguidade, Foucault ressalta as formas de relação consigo mesmo exercidas através de práticas cotidianas pelos indivíduos, as quais permitem o entendimento de si enquanto sujeito. Essa experiência de si respeita a um projeto estético da existência, no qual tais sujeitos constituem um estilo de viver próprio. Os modos individuais de relação com os saberes (jogos de verdade e discursos) e práticas de temperança, de técnicas racionais – estratégias de poder – que lhes permitem se reconhecer e estabelecer verdades sobre si, conferindo sentido, dentre tantas outras, às condutas diante da morte (Foucault, 1984, p.15). (Parece deslocado esse paragrafo ou é impressão minha? Mas tem a ver. Por conta dessa ideia da “filosofia de vida”. Fala do modo como as pessoas se relacionam consigo mesmas. E disso o Foucault sabia falar, ainda que, não abro mão de dizer, suas interpretações da filosofia do mundo antigo sejam questionáveis).
Se o período clássico de Platão e Aristóteles é marcado pela censura do suicídio em suas nuanças, nas correntes helenísticas, a morte de si, enquanto atitude racional, torna-se a expressão máxima da liberdade pessoal e livramento de uma vida de injúrias. (Olha aí aquilo que a gente falou lá na introdução de que não existe uma essência do ato, uma única maneira de pensa-lo. Várias visões contraditórias convivem e entram em conflito o tempo todo. O tempo vai selecionando o que chega para nós como vertente principal, mas é só cavucar um pouco que essa imagem se desconstrói). Dentre as escolas filosóficas mais expressivas que se pronunciam a respeito do tema encontramos os cirenaicos, cínicos, epicuristas e estoicos. Os dois primeiros se mostram um tanto pessimistas com relação à existência, afirmando que a vida é certamente mais desprazerosa do que prazerosa, tendo-se, por conseguinte, a morte como alternativa preferível à vida. Nas palavras de Diôgenes Laêrtios, para os cirenaicos a felicidade é “totalmente impossível, pois o corpo é afetado por muitos sofrimentos, e a alma padece juntamente com o corpo e se perturba com ele, a sorte impede a concretização de muitas esperanças; consequentemente a felicidade é inatingível.” (Povo macabro). Um de seus principais representantes, Hegésias, chega a ser chamado de peisithánatos, que significaria “aquele que persuade a morrer” (Diôgenes Laêrtios, 1988, p.68). Para os cínicos, a morte se constituía enquanto alternativa que de pronto se apresenta àquele que não vive arrazoadamente sua vida. Já a concepção hedonista de Epicuro alerta que o homem livre não deve almejar nem temer a morte. Segundo o filósofo, a morte refletida evidencia a transposição de equívocos supersticiosos e a filosofia se apresentaria como instrumento de libertação do homem e de acesso à verdadeira felicidade. Pois a alma não necessariamente padece junto ao corpo dos males que se lhe abatem. Ele também alerta para o risco da sociedade produzir nos homens a insensatez do gosto pelo luxo, pelo não necessário e sugere: “É um mal viver sob o jugo das necessidades, mas não é necessário viver sob a necessidade” (Epicuro apud Sêneca, 2008). (Na boa, eu citei o Epicuro a partir do texto do Sêneca, mas eu mesma não confio. Fiz isso pela dificuldade em acessar material do primeiro. Pois o Sêneca é um filósofo por si só. Sem comprometimento com as regras e os apreços atuais da academia, que tem a própria fama para proteger. Não duvido nada que ele possa ter distorcido a citação do Epicuro a seu favor).
Os estoicos inauguram uma perspectiva de indiferença sobre a vida e a morte, a exemplo de Zenão seu reconhecido fundador, que se matou por desprezo à vida. Afirmavam que o homem sábio haveria de preferir um modo de vida racional voltado para a contemplação e ação lógicas, em busca da retidão das vontades. Cumpre ao homem extirpar suas paixões e opiniões e cultivar suas virtudes, independente das circunstâncias de sua existência. Não teriam relevância a morte, a pobreza e a escravidão. Todavia, o desprezo pela vida somente seria legítimo por “motivos razoáveis”, quais sejam: em defesa de amigos e da pátria ou em casos de doenças incuráveis, dores insuportáveis e mutilações (Diôgenes Laêrtios, 1988, p.130). A recusa de uma vida limitada, de enfermidade, aproxima-se menos da destruição de si do que de uma apropriação ou apego a si (Gazzola, 1990, p.102).
O contato de Roma com a cultura grega leva todo seu império a entrar na “órbita do helenismo”, redimensionando seus saberes. A proposta estoica de austeridade física e moral, baseada na resistência ante o sofrimento, bem como a participação do homem na vida pública, coincidiram com o modo de vida romano e sua dedicação ao Estado. O contágio pelo estoicismo, como a doutrina que privilegiava a autodisciplina, a sujeição à ordem natural e o cumprimento dos deveres atendia aos hábitos romanos e suas incumbências cívicas (Pirateli e Melo, 2003, p.64). O prosaísmo romano se distanciava da riqueza das abstrações gregas, no entanto, foi de fundamental importância para materializá-la em seus quadros cívicos e jurídicos.
DIAS, O. M. K. Perspectiva Histórica sobre a Morte de Si Mesmo no Ocidente. Monografia de fim de curso de Formação de Psicólogo, Instituto de Psicologia. Rio de Janeiro: 2013.
História do Suicídio. Introdução.
INTRODUÇÃO
No presente trabalho pretende-se realizar uma discussão acerca de argumentos filosóficos, médicos e teológicos que influenciaram fortemente a noção de suicídio através do período compreendido entre os séculos IV a.C. e XVIII d.C., pondo em questão a própria definição do suicídio e tomando-o como base para reflexão sobre temas pertinentes a esses momentos históricos. (Este trabalho foi várias vezes apresentado na Jornada de Iniciações Científica da UFRJ. Ele sempre passava para a segunda fase, quando geralmente caía em uma mesa na qual os professores moderadores eram historiadores e eles sempre, sempre, sempre, implicavam com a abrangência histórica do trabalho). Dessa forma é preciso alcançar suas diversas áreas de constituição e validade, compreendendo seus modos de uso e a multiplicidade dos campos teóricos dos quais partem. Não se trata de uma história da interdição ou liberação da morte auto-infligida e sim da investigação de como esta insurge enquanto problema para o pensamento, regida por uma intensa relação de forças que em nada se aproxima da totalização e naturalização de fatos necessários que se organizem rumo a um sentido final. Também não se trata de buscar a proveniência do suicídio, sua essência, de forma exata, inabalável pela exterioridade e acaso. Entendem-se as definições a serem discutidas como redes de singularidades entrecruzadas de começos inumeráveis que demarcam aspectos inéditos sobre o tema, captando acontecimentos que compõem seu caráter dispersivo e heterogêneo.
Sob a perspectiva das indicações historiográficas de Michel Foucault, referimo-nos ao surgimento histórico, ou emergência de nosso objeto, como o ponto onde forças discursivas entram em conflito fazendo aflorar acontecimentos. (Portanto, fica claro que o nosso não era um trabalho de historiografia tradicional. Em parte, isso já justificava a abrangência do nosso recorte temporal).
Em diferentes períodos históricos, certas posições acerca do tema do suicídio despontaram dessas batalhas conceituais e se tornaram emblemáticas de seu tempo por constituírem campos de saberes dominantes. Tais posições acerca da prática da morte de si foram tomadas como marcos de reconhecidos momentos históricos, como discutiremos a seguir, a título de limitação metodológica. Todavia, a diversidade da rede de discursos minoritários, ou murmúrios, que perpassam a constituição dos grandes campos de saber desestabilizam a tentativa de estabelecer uma ideia original ou universal do suicídio. (Essa ideia de murmúrios é muito interessante. É como se, do debate teórico, sempre despontasse uma voz dominante, aquele que grita mais alto do que os outros, enquanto todos os outros estudiosos, e, principalmente, as estudiosas, ficam ali murmurando ao redor, baixo demais para que possamos ouvi-los. Precisamos de muita atenção para poder distingui-los. Vale ressaltar que se destaca quem grita mais alto mesmo, no sentido de quem ganha o jogo de poder, e não necessariamente aquele que está mais correto). Por essa razão, são levantadas algumas problematizações, antes de tudo para demonstrar a luta entre diferentes perspectivas, que não constituem uma ideia simples e totalizante, produto de aprimoramento progressivo, mas sim um objeto que traz consigo descontinuidades, rupturas, convergências e subversões de si mesmo. (Essa é a tentativa de ouvir os murmúrios). A demonstração da pluralidade na dimensão das práticas, dos saberes e dos jogos de poder tem por efeito dispersar o “gradiente de abstração” responsável pela conservação da ideia pura de suicídio, que resiste aos acontecimentos sob diferentes máscaras através dos tempos. (Esse conceito “gradiente de abstração”, poderia estar mais bem explicado. Foucault fala sobre isso em seu livro Arqueologia do Saber. Onde ele afirma que “a história de um conceito não é, de forma alguma, a de seu refinamento progressivo, de sua racionalidade continuamente crescente, de seu gradiente de abstração, mas a de seus diversos campos de constituição e de validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída sua elaboração” (p. 5). Entende-se que um conceito é algo abstrato. Essa característica garante que ele não seja influenciado pelas contingências, aquilo que acontece na realidade não tem efeito sobre os conceitos. Isso faz com uma determinada ideia permaneça aparentemente inalterada através dos séculos, que ela pareça eterna e imutável. Na verdade, há os tais jogos de poder por detrás da aparente univocidade dos conceitos. Quando ouvimos os murmúrios, o conceito de suicídio, por exemplo, se racha em mil pedacinhos).
A luz dessa referência metodológica, utilizamos como principal fonte pesquisa e ponto de partida para demais investigações o livro de Georges Minois (1998): História do Suicídio. Este estudo apresenta a problemática do suicídio, não como demográfica, mas religiosa, moral, cultural e filosófica que pode revelar modos segundo os quais os indivíduos vivem, se relacionam e auto-representam característicos de uma sociedade. (O recorte histórico que seguimos, foi o recorte feito por este autor).
Uma análise da morte voluntária implica, portanto, em restituir sua dimensão acidental e principalmente por em discussão suas noções parciais ou discursos de diferentes ordens. Os saberes a respeito desse tipo de morte colocam-se em relação de complementaridade com suas práticas e produzem verdades a respeito das mesmas. Nesse sentido, qualquer conhecimento produzido sobre a morte auto-infligida e seus modos de execução dizem respeito ao seu comprometimento político, histórico e social.
A exemplo da parcialidade dos discursos, podemos refletir sobre a significação da própria palavra suicídio.
O termo suicídio indica uma conotação claramente política e um compromisso moral de desprestigiar o ato associando-o ao homicídio, em razão de seu contexto histórico. A palavra suicidium, formada pelo prefixo ‘sui’, pronome possessivo e ‘caedere’, ato de matar, não foi usada antes do século XII por razões léxicas e gramaticais, pois a língua romana recusava compostos com prefixo pronominal. O termo foi forjado pelo teólogo Gauter S. Vitor, na obra Contra Quator Labyrinthos Fraciae, e claramente carregava o propósito moral supracitado, tal como foi proposto por Santo Agostinho. (Pois foi Agostinho que aproximou o ato do suicídio daquele do assassinato). O termo foi abandonado durante séculos por tais razões linguísticas e por volta do século XVII retoma importância, sendo difundido através da língua inglesa, que nessa época admitia barbarismos e neologismos, antes rejeitados pela língua escrita (Góes, 2004). (Por essa anomalia gramatical é que o certo em português é falar: “Fulano suicidou” e não “Fulano se suicidou”. Mas soa estranho sem o se mesmo).
Apresentaremos agora uma breve análise ressaltando alguns períodos históricos que remontam a diferentes usos da morte voluntária e inúmeros argumentos que a atravessam a fim de demonstrar a diversidade e riqueza de seus saberes e práticas.
DIAS, O. M. K. Perspectiva Histórica sobre a Morte de Si Mesmo no Ocidente. Monografia de fim de curso de Formação de Psicólogo, Instituto de Psicologia. Rio de Janeiro: 2013.
Guerra contra a felicidade.
Eu estou longe de poder ser parabenizada pelo meu amor aos clássicos da literatura (ou por ter lido uma boa quantidade destes), mas eu já passei tempo suficiente conversando com gente cult para saber que escritores clássicos e as tais pessoas cult não gostam muito de felicidade ou de gente feliz.
Portanto, a felicidade se tornou, já há muito tempo, coisa de gente simples e ignorante.
É um suposto fato cientificamente sustentado que as pessoas humildes, pouco educadas, geralmente pobres, sofrem menos, pois elas processam emoções de maneira menos complexa do que as pessoas que possuem mais recursos intelectuais.
O resultado histórico da mistura de todas essas opiniões é a de que a felicidade e as histórias de amor com finais felizes são malvistas, clichês, e feitas para o povão, para a massa, que “procura entretenimento rasteiro para se distrair”.
Eu até concordo que não abundam os filmes e as histórias românticas de boa qualidade, mas isso pode ser explicado pelo fato de os bons escritores, cineastas, poetas, dramaturgos etc., serem todos cult e nós já estabelecemos que gente cult odeia felicidade.
Essa guerra contra a felicidade e as pessoas felizes tem um viés acadêmico que se soma ao viés artístico.
Acadêmicos e intelectuais tendem a olhar com maus olhos esse papo de metas e de vida equilibrada, dos hábitos das pessoas altamente eficazes e da busca pela felicidade sustentável. Eles nos dizem que essas pessoas querem varrer as emoções negativas para debaixo do tapete. Afirmam que os estudos que comprovariam os benefícios e a eficácia deste novo estilo de vida e dos métodos que devemos empregar para alcançá-lo, não passam de pseudociência, de um discurso vazio e pouco profundo, que geraria, na verdade, um ideal de felicidade inatingível.
Isso tudo é realmente muito melancólico, pois é possível perceber, a partir desse discurso, o quanto as pessoas realmente se sentem tristes ou, não exatamente tristes, mas também não muito felizes de um modo geral; isso tudo a ponto do discurso da busca da felicidade parecer uma ameaça ou uma imposição insustentável, inatingível e dolorosa.
Na verdade, a gente já gastou grande parte dos recursos artísticos, intelectuais e culturais da humanidade relatando e estudando as trilhões de maneiras de sermos miseráveis. Os tratados e obras sobre a felicidade é que rareiam.
Mas o interessante é que elas sempre existiram. Desde a Antiguidade, passando pelo renascimento e chegando aos tempos atuais – nos quais elas se multiplicam – algumas mentes se arriscaram a proferir algumas palavras e a dar algumas pinceladas em homenagem à vida feliz.
Claro que existem os exagerados, aqueles que dizem que devemos ser felizes a qualquer custo e que têm horror das tais emoções negativas, mas generalizar essa postura é um grande preconceito.
O que algumas pessoas começam a buscar não é uma maneira de decepar o lado negativo, bastante rico e construtivo sim, da nossa vida emocional, mas apenas entortar a balança para o outro lado e falar mais de amor e esperança para variar.
O que queremos é, mesmo tendo consciência das mazelas da humanidade e sentindo dor e sofrimento em alguns momentos, reivindicar o direito de vivenciar o que há de verdadeiramente bom na vida e lutar para multiplicar os momentos de felicidade, aprendendo a valorizá-los.
A busca da felicidade é absolutamente legítima. E ela não é um desrespeito ao sofrimento.
A gente conhece muito mais meios de tortura, do que meios de fazer uma pessoa sorrir. E já é hora de mudar isso.
“Por onde andam meus pés”? Dia 9.
Mais um dia, mais amigos.
Hoje fomos almoçar fora e comprar plantas na CADEG – o Mercado Municipal do Rio de Janeiro. Sabe aquele centro turístico que você visita quando vai à São Paulo que tem muita comida boa? Então, aqui no rio também tem (pena que a comida é tão cara. Se não fosse assim, eu iria mais vezes).
Para comprar plantas o mercado é muito bom e muito barato.
Os assuntos do dia foram preconceito linguístico e uma prova filosófica da existência de Deus supostamente baseada em premissas comprovadas pela Física. Pois é. Meus amigos são todos muito inteligentes, esses de hoje são os que adoram falar sobre assuntos acadêmicos o tempo todo.
A questão do preconceito linguístico apareceu quando estávamos falando sobre correção de provas. Alguns de nós são professores e temos a missão de “testar” o conhecimento dos alunos. Estávamos comentando o fato alarmante de que alguns alunos entram na faculdade sem ter o mínimo domínio da língua escrita. Algumas coisas que os alunos escrevem nas provas são indecifráveis. A questão é: pedir que os alunos utilizem a norma culta da língua resolve esse tipo de problema? Ou será que estaríamos apenas cometendo preconceito linguístico sem colaborar em nada para o desenvolvimento acadêmico, e intelectual de uma maneira mais ampla, dos nossos alunos? Resumindo: a norma culta da língua não garante o 10 que depende do domínio da matéria e da clareza e coesão da expressão escrita do aluno.
No fundo, no fundo, enquanto estamos tendo essas discussões, eu fico pensando: “Meu Deus! Como a gente cresceu! Meus amigos agora são professores universitários! Eu mesma comecei a dar aulas em uma instituição de pós-graduação. Eu me seguro para não comentar estas coisas o tempo todo porque as pessoas simplesmente dizem: “E daí, menina? É isso mesmo”. Daí que eu acho que eu sou muito deslumbrada com a vida e acho todas as coisas maravilhosas e impressionantes. De vez em quando eu tenho crises de riso, baixinho quando estou sozinha, pensando no fato de ter conhecido e me casado com o meu marido, de ser filha da minha mãe, neta da minha avó, de ter escolhido a profissão que escolhi. Tudo isso tinha tudo para dar errado. Se eu tivesse virado à direita no lugar de virar à esquerda em alguma das esquinas da vida… Tudo poderia ter sido diferente.
Isso nos leva ao segundo tópico da discussão de hoje, a prova da existência de Deus. Também resumidamente: Para que houvesse a possibilidade de existir vida no nosso universo do jeito que existe – veja bem, para existir a possiblidade de existir vida, como meu amigo frisou, não a vida em si, mas a mera possibilidade dela – todas as constantes da física só poderiam variar dentro de um intervalo muito pequeno dentro de uma infinidade de possibilidades. Só um design inteligente poderia ter feito com que tudo acontecesse precisamente desta maneira. Essa é a ideia. O problema com este argumento é que ele não é o mais simples possível. O mais simples possível é acreditar no acaso. O mero acaso.
Veja bem, o Deus que a filosofia pretende provar não é o Deus da religião. Ele não é um Deus onipotente, onisciente, onipresente e amoroso. A prova filosófica só consegue falar de uma força, consciente e dotada de vontade, que escolheu criar um universo com a possibilidade de que existisse vida nele. E ponto final.
Como eu disse, o acaso é a explicação mais simples. Mas eu entendo. Eu não falei com vocês do meu marido? Da minha mãe? De todas as coisas que aconteceram na minha vida? Pensar que tudo isso vem do mero acaso é pouco romântico e angustiante.
Imagine os votos de casamento desse universo perfeitamente racional:
“Fulano, é até difícil para mim dizer que fico feliz em ter te conhecido e escolhido me casar com você, porque eu tenho certeza de que se o acaso tivesse colocado outra pessoa no meu caminho as chances de eu me apaixonar por essa outra seriam, teoricamente, as mesmas. Mas foi você que apareceu, então… Ok. Ficaremos juntos, de hoje em diante, até que o acaso nos separe da mesma maneira aleatória que nos uniu”.
Nada Disney, não é? (Sem contar com o fato de que nesse universo perfeitamente racional é bastante possível que não existisse casamento).
Como doutoranda em filosofia devo dizer que amo discutir temas etéreos e tão fundamentais quanto Deus e a origem do universo, a essência do ser humano e os fundamentos do comportamento ético, mas, sinceramente, essas discussões só têm significado na minha vida, porque posso dividi-las com esses pezinhos encharcados.

“De S. a K.”.
Já escrevi alguns textos no blog sobre blackout poetry. Você pode vê-los aqui e aqui.
Pois é… Hoje eu tive um dia bem tenso e estressante e não estava me sentindo muito bem quando cheguei em casa depois de passar o dia inteiro na rua cumprindo obrigações que eu ainda não sei muito bem a qual propósito vão servir na minha vida. Quando cheguei em casa, pensei no blog e eu ainda não tinha preparado o texto de hoje. O que melhor para se fazer, depois de um dia estressante, do que passar algum tempo fazendo algo que vai te fazer se sentir bem? (Lembra do texto de ontem? Eu realmente uso aquele modelo de tabela para pensar sobre a minha vida. Com o hábito, eu já nem sempre preciso desenhá-la no papel, eu apenas mantenho-a em mente para avaliar os meus dias). Tendo isso em visto, eu pensei que o texto de hoje deveria ser especialmente terapêutico para mim. Neste momento tive um insight! Vou cutucar a minha dissertação!
Eu sei! Não parece nada terapêutico! Mas isso é porque você ainda não fez blackout poetry na sua dissertação. Foi libertador!
Eu ainda pretendo fazer nela inteira. Hoje foi só o primeiro passo.
E eis como ficou o resumo da minha dissertação… (Orientador, caso o senhor esteja lendo isso, saiba que a blackout poetry não é desrespeitosa com o texto, pelo contrário: é uma forma potente de apropriação da escrita do autor. E deus sabe que os estudantes universitários sofrem com o sentimento de desconexão em relação ao resultado dos seus trabalhos acadêmicos. Eu ainda vou realizar uma oficina com ex-estudantes de pós-graduação só para fazer trabalhos artísticos terapêuticos com as teses e dissertações. Quem tiver interesse… inbox!).
**********************************************************************************
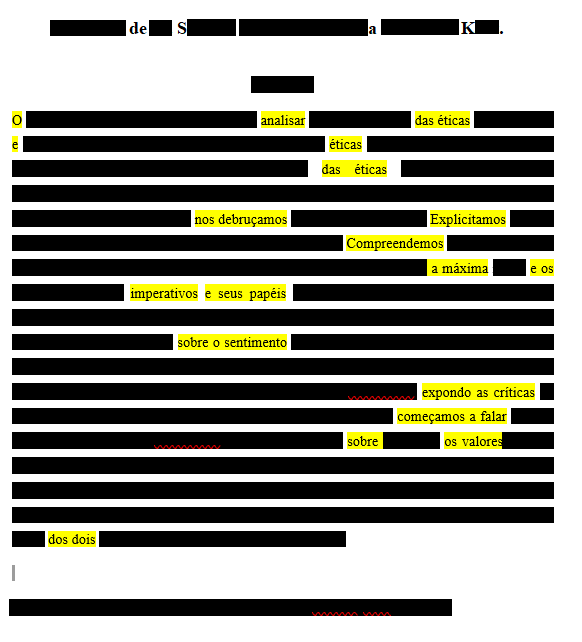
Pole dance e vida acadêmica.
Eu lia livros da Disney quando era bem novinha. Li muito A Bíblia Para Crianças também. Isso é o que eu me lembro de ler antes dos dez anos de idade.
Eu me lembro de já ser, desde cedo, fascinada por livros grossos. Eu cheguei a surrupiar E O Vento Levou da estante da minha mãe e leva-lo para a escola quando eu estava na terceira série (já dá para ter noção de que eu sofri muito bullying quando eu era criança, não é?).
Mas, naquela ocasião, eu não cheguei, de fato, a ler o livro, eu só o carregava para cima e para baixo.
Comecei a ler livros de mais de vinte páginas ou com mais de quatro linhas em cada página, com dez para onze anos. Foi quando saiu o primeiro livro do Harry Potter. Minha mãe começou lendo para mim de noite, mas ela acabava dormindo rápido algumas vezes e eu ficava morrendo de curiosidade. Comecei a ler sozinha. Não que eu dispensasse as histórias da minha mãe, mas eu até preferia as inventadas do que as lidas de algum livro.
Ela inventava histórias do tipo: a formiguinha estava andando pela estrada – aí ela começava a dormir e eu a cutucava, mas não com tanta força para que ela não acordasse completamente e ela continuava – aí o chefe dela chamou ela na sala dele…
Eu morria de rir.
Enfim, fui do Harry Potter para os livros do Tolkien, daí para as Brumas de Avalon e assim por diante.
Não parei de ler até a faculdade. Mas isso eu acho que já contei para vocês.
O que ficou de fora é que tinha outra atividade que me acompanhava desde sempre: a dança. Ou o que eu considerava dança.
Minha mãe queria que eu fizesse balé e eu não quis de jeito nenhum, até hoje não é o que mais me encanta na dança.
Mas eu aceitei fazer jazz e não parei nunca mais de fazer coisas com o corpo até… Adivinha quando… Isso mesmo! Até entrar para a faculdade.
Do jazz eu fui para a GRD (ginástica rítmica desportiva), depois para a dança do ventre e a dança cigana, estas últimas eu fiz ao mesmo tempo dos treze aos dezessete anos.
Então, quando eu passei para a faculdade de psicologia, não deixei apenas a paixão pela literatura de lado, mas também o meu amor pela dança.
Não foi uma morte rápida. Foi uma morte lenta e eu fui insensível a ela. Eu fui sentindo como se a minha antiga vida estivesse se tornando obsoleta, eu fui abraçando um novo estilo de ser e de me comportar como se alguma mudança positiva estivesse acontecendo.
Eu me lembro de ter lido O Morro dos Ventos Uivantes durante as aulas de Estatística no terceiro período da faculdade e esse foi um dos últimos livros que eu tinha lido até recentemente, quando este quadro mudou. Eu não me lembro quando foram as minhas últimas apresentações de dança, mas devem ter ocorrido mais ou menos nessa época.
Quando eu comecei a me dedicar à escrita e à leitura novamente, a necessidade da dança veio junto.
Atualmente eu estou lutando contra a culpa para poder dar conta do meu trabalho, da literatura, da dança e do doutorado em filosofia sem achar que eu estou fazendo pouco em cada uma dessas áreas.
É uma loucura isso. Eu ainda tenho que lidar com a mesma armadilha que me prendeu na graduação. “Se a sua vida não se resume única e exclusivamente à academia você não deveria estar no meio acadêmico”.
Esta, além de ser uma exigência que nunca vai ser satisfeita (mesmo as pessoas que mais se dedicam aos estudos que eu já conheci estão insatisfeitas e acham que deveriam estudar mais), é uma exigência falsa.
Não é verdade que você não pode ter uma vida fora da academia para ser alguém intelectualmente. Para fazer algum tipo de trabalho que importe.
O livro da Carolina de Jesus vale muito, muito, muito mais do que muita tese que está por aí mofando nos porões das bibliotecas acadêmicas.
Atualmente eu estou fazendo dança do ventre e pole dance (que é muito difícil e maravilhoso!) e isso me faz mais bem do que qualquer livro do Kant que eu já tenha lido. E olha que ele foi um dos dois principais autores que eu estudei no mestrado. Eu sinto que ele deveria ser mais importante na minha vida, mas ele, infelizmente, não é.
A vida acadêmica tem um alto potência para ser massacrante, com chances de se tornar um relacionamento abusivo.
Mas eu estou desviando novamente do que eu consigo falar hoje, que é a minha história com a dança.
Eu ainda estou cozinhando mentalmente um post sobre a academia além dos dois que eu já postei de que você pode acessar aqui e aqui.
Mas agora eu estou um pouco deprê por ter entrado neste assunto.
Texto louco esse, não é mesmo? Às vezes é ruim escrever desse modo: imaginando que eu estou em diálogo com alguma pessoa sem programar o texto (eu vou escrevendo e imaginando um interlocutor que responde e comenta o cada tópico). Isso acontece porque eu estou escrevendo todo dia e às vezes não tenho tempo para preparar os textos como eu gostaria. Uma das desvantagens de ter como meta a publicação de um post por dia.
Acho, então, que vou simplesmente encerrar por aqui deixando vocês com o vídeo da minha primeira apresentação no pole dance.
As vítimas da minha dissertação. Parte II: saúde mental.
Na defesa eu vou arrumada, vou receber “críticas construtivas” que vão ser muita bem recebidas e consideradas. Virão de homens sábios e de barba, provavelmente. E o que eu tenho a ver com esses senhores, meu deus!? Porra nenhuma. Vê porque preciso pedi anteriormente desculpas pela grosseria? Um dos meus grandes problemas emocionais é depender da aprovação dos outros. Todo meu esforço de me desvencilhar disso vai por água abaixo toda vez que escrevo. E está piorando. Porque cada vez luto mais para me safar. Ou luto menos, sei lá. A angústia já não me abandona e estou chata. Muito chata. Completamente chata. Cativa, cheia de medo, encurralada e chata. Quando eu comecei a ler, quando era nova ainda, achei que eu ia crescer e ser uma pessoa triste. E a minha tristeza ia ser magnífica. Como a do Edgar Allan Poe. Uma melancolia profunda, sábia, produtiva e admirável. Mas eu cresci, fiquei deprimida e impotente. Uma depressão clínica, psiquiátrica, sem cor e sem brilho. Daquelas para se calar com remédio, pois ninguém mais a minha volta atura. Esse estado mental, não o atingi sozinha. A dissertação me deu as mãos e me levou. Se eu tivesse enlouquecido ainda vá lá. Loucura é um sucesso literário. Mas eu fiquei com o clichê da mulher morta. Um corpo inerte e acessório na história de outra pessoa, ou, no meu caso, eu sou o corpo inerte que dá vida à dissertação.
